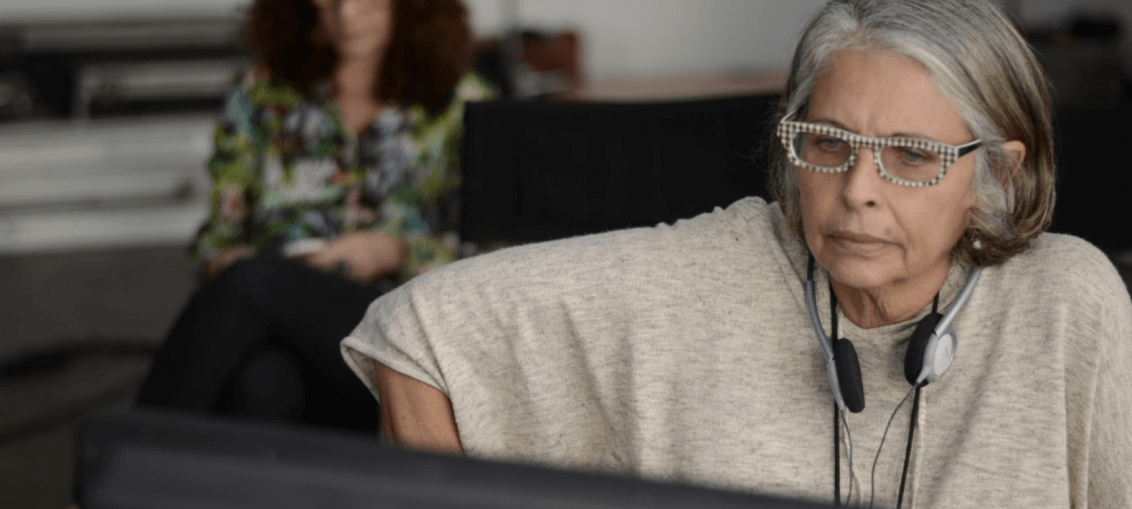
Mais de trinta anos separam Que Bom Te Ver Viva, o primeiro longa-metragem da cineasta Lucia Murat, de Ana. Sem título, o décimo terceiro, em cartaz nos cinemas de Brasília, Fortaleza, Niterói, Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador. Mas os dois filmes têm mais em comum do que a diretora: ambos navegam entre a ficção e o documentário para contar histórias pouco conhecidas de mulheres durante a ditadura militar.
Saiba mais: Conheça a artista por trás das performances de Ana. Sem título
Leia também: 20 dirigidos por mulheres sobre a ditadura militar
Apoie: Colabore com o Mulher no Cinema acesse conteúdo exclusivo
Lançado em 1989, poucos anos após a redemocratização, Que Bom Te Ver Viva reuniu histórias de ativistas que, como Murat, tinham sido presas e torturadas durante a ditadura militar. Os depoimentos documentais eram combinados a cenas roteirizadas nas quais a atriz Irene Ravache interpretava uma personagem anônima que funcionava como alter-ego da diretora. Em Ana. Sem título, ela deixa a separação entre ficção e documentário menos evidente, para que o espectador não saiba exatamente quando está diante de um gênero ou de outro. “A mistura foi radicalizada de forma absurda, né?”, comentou Murat, em entrevista por telefone ao Mulher no Cinema. “Eu mesma ficava espantada e pensava: será que é possível?”.
Ana. Sem título teve outras realizações artísticas como ponto de partida: a peça Há Mais Futuro que Passado, montada em 2017 no SESC Copacabana, no Rio de Janeiro; e a exposição Mulheres radicais: arte latino-americana, 1960-1985, realizada em 2018 na Pinacoteca de São Paulo. O roteiro do filme, escrito por Murat em parceria com Tatiana Salem Levy, acompanha a atriz Stella (Stella Rabello), que estuda cartas trocadas por artistas plásticas latino-americanas nos anos 1970 e 1980. Nestas cartas ela encontra menções à brasileira Ana (Roberta Estrela D’Alva), que fez parte deste mundo, mas desapareceu. Obcecada por descobrir quem era Ana e o que aconteceu com ela, Stella viaja por Cuba, México, Argentina e Chile em busca de informações.
Conforme passa pelos diferentes países, o filme faz entrevistas para revelar a história de Ana e para recuperar a trajetória de artistas reais como a poeta e coreógrafa peruana Victoria Santa Cruz (1922-2014), a fotógrafa mexicana Kati Horna (1912-2000), a pintora cubana Antonia Eiriz (1929–1995), a cineasta argentina María Luisa Bemberg (1922-1995) e a muralista chilena Luz Donoso (1921-2008). Algumas dessas entrevistas são com pessoas reais, e outras, com atores, sem que isso seja identificado ao espectador. Da mesma forma, a própria equipe do filme está constantemente em cena, às vezes interagindo naturalmente e em outras vezes encenando um texto previamente preparado. A todo esse material ainda se se somam filmagens em Super-8 e 16 mm das performances de Ana, criadas especialmente para o filme e tratadas na montagem como imagem de arquivo.
Estas várias camadas se combinam para que Ana. Sem título aborde diferentes temas – do apagamento de artistas mulheres ao racismo estrutural da sociedade latino-americana, passando, também, pela violência dos regimes ditatoriais e a importância de ações institucionais para evitar que os erros do passado se repitam. Neste sentido, salta aos olhos como o Brasil está atrás das nações vizinhas. “Em todos os países em que fomos essa questão da memória é muito presente, e aqui não é“, disse Murat. “Esse desconhecimento, essa total inexistência de centros que possam trabalhar essa memória tem muito a ver com a nossa realidade.”
Leia os principais trechos da entrevista:
*
Sei que o filme é livremente inspirado na peça e na exposição, mas queria saber um pouco mais sobre como era o roteiro. De que forma ele previa ou não previa o elemento documental? Havia diálogos e cenas ou era mais um texto guia a partir do qual os atores improvisavam?
Quando assisti à peça, achei dois dispositivos interessantes: as cartas entre artistas latino-americanas e a existência da personagem Ana, que estava sendo procurada. Quando comecei a trabalhar com a Tatiana [Salem Levy, corroteirista do filme], fizemos decisões importantes, como a definição de quem era a Ana e a definição de que queríamos fazer um road movie. Ao contrário do teatro, o cinema permite que você vá aos lugares. E uma vez indo aos lugares, haveria a parte documental, de acrescentar o que se vê, sobre a qual obviamente não tínhamos muito controle. A gente fez o roteiro da procura da Ana – esta era a ideia. Toda a definição de qual país visitar primeiro, tudo se fez a partir da procura da Ana e da descoberta de como a Ana era colocada nas cartas. A personagem da Stella é inteiramente ficcional: o que ela lê e o que ela fala são textos escritos ou por mim ou pela Tatiana. Ao mesmo tempo, também já tínhamos a ideia de integrar a equipe técnica no filme. Isso foi discutido quando contratei as pessoas: a ideia é que você esteja presente em cena, você topa? Qual a sua situação? O que você quer falar sobre aquela época?

Por que vocês queriam que a equipe estivesse em cena no filme?
Fazia parte da questão documental e também havia o fato de a gente estar trabalhando com gerações diferentes. Era interessante ver como essas pessoas se relacionavam. No caso do Léo [Bittencourt, diretor de fotografia], era mais uma questão de idade, e no caso da Andressa [Clain Neves, técnica de som], pela questão racial, pelo racismo estrutural que ela coloca em discussão. Isto, por exemplo, não estava no roteiro. Houve um momento em que ela foi barrada no aeroporto no México, algo muito complicado, um absurdo. Ela sofreu uma agressão realmente, e a gente incorporou aquilo ao filme. Perguntei: “Tudo bem?” E ela falou: “Tudo bem, vamos lá”. No roteiro estava escrito que falaríamos sobre a questão da violência contra a mulher e a violência que eu tinha vivido por ter sido torturada. Mas a gente acrescentou aquilo que tinha acontecido com a Andressa.
Você já tinha feito filmes que combinam ficção e documentário. Mesmo assim, foi desafiador?
Acho que com o Ana isso foi radicalizado de forma absurda né? Eu mesma ficava espantada e pensava: será que é possível? Mas foi muito interessante quando a Tatiana viu o filme pronto e disse que reconheceu o roteiro. Ela esperava que o resultado final fosse estar bem longe do nosso texto, mas não, o roteiro está ali. É claro que, como em todo filme, muitas cenas não entraram. E basicamente as cenas que caíram foram as que estavam muito ficcionadas. O grande desafio para mim foi que todo o material filmado tinha de se parecer a um documentário, já que o filme se apresenta como documentário. Algumas das cenas mais ficcionais, que tinham diálogos e plano e contraplano, você olhava e percebia que não tinham a ver com o resto do filme.
Queria saber um pouco mais sobre as performances. Como elas foram criadas?
Tivemos a consultoria fundamental da Camilla Rocha Campos. Quem nos guiou o tempo todo foi ela. Não posso falar muito, para não dar spoilers, mas ela criava as performances a partir do roteiro, de cada data e de cada situação. Tudo foi feito em função do que a gente buscava e do que a personagem vivia naquela momento. Às vezes incorporamos questões reais também. Por exemplo, sabia da história da guerrilheira paraguaia [Soledad Viedman] que foi sequestrada no Uruguai [em 1962] e teve a perna marcada por uma suástica. Essa situação acontece no filme, e aí buscava-se: que performance poderia estar adequada a isso? É uma pena que, por causa da pandemia, não possamos fazer conversas com o público depois da sessão. Queria que pudéssemos estar juntos para a Camila explicar o trabalho que ela fez, que foi fantástico.

Como foi trabalhar com equipes locais em cada país?
Faço cinema há muito tempo, então consegui contratar produtores que conhecia em cada um dos países. Eles me ajudaram desde o início, mas a equipe local a gente não conhecia. Como tínhamos muito pouco tempo em cada lugar, havia o receio de as equipes não se integrarem. No entanto, nos integramos muito bem. Foi um sentimento muito bonito: a gente se sentiu latino-americano, entendeu? Em todos os lugares, todo mundo se integrava entre si e ao tema. E aí veio a decisão de integrar também essas equipes no filme. Por exemplo, no Chile o eletricista começou a falar sobre como via o [Salvador] Allende [presidente chileno deposto pelo golpe liderado por Augusto Pinochet]. Na hora falei: “Joga a câmera para cima dele”. E ele de fato aparece no filme. Fizemos isso em outros momentos – às vezes funcionou, outras não. Mas era uma abertura para as equipes também falarem de suas experiências. Isso foi muito legal.
Ana. Sem título se relaciona com Que Bom Te Ver Viva de várias formas – no hibridismo, no foco nas mulheres, no tema. E embora seja de 1989, Que Bom Te Ver Viva segue bastante atual. Como você vê esses dois filmes em relação um ao outro?
O Que Bom Te Ver Viva foi meu primeiro longa, e no primeiro longa você é muito ousada. Você não entende nada do que está fazendo, não tem controle da técnica, então vai fazendo, criando, inventando [risos]. É uma particularidade do primeiro filme que você perde no decorrer da vida porque vai tendo um controle muito grande do fazer cinema, do que é possível e do que não é. Mas concordo com você: até hoje recebo muitos pedidos para passar o filme e sinto que ele tem repercussão grande mesmo em gerações mais novas, que não viveram aquilo e se sentem muito tocadas. Era um filme que falava da nossa experiência de sobreviver à tortura, num momento em que ninguém falava disso. E foi fruto de um processo de psicanálise que fiz durante muitos anos, para poder lidar com essa situação. O Ana. Sem título já é meu décimo terceiro longa e é um filme que faço com muito prazer. Foi um prazer para essa equipe de quatro pessoas ir a esses países e procurar essas artistas, que eu também desconhecia. É um filme com o qual você aprende muito, se encanta muito, passa a conhecer muita coisa, e não somente sobre as obras das pessoas. À medida que você vai ao lugar e procura a amiga ou o parente que possa falar daquela personagem, você se aproxima dessas vidas. Foi um filme no qual a gente estava buscando e encontrando coisas – mulheres, artistas, museus. Acho que ele reflete isso também.

Em 2019, co-organizei um debate sobre o Que Bom Te Ver Viva em São Paulo, no qual uma jovem da plateia disse ter se incomodado com o fato de todas as entrevistadas serem brancas. No caso de Ana. Sem título, a questão racial é extremamente importante e chama a atenção até pelo fato de não termos muitos filmes sobre a experiência dos negros durante a ditadura. Por que você quis abordar este tema desta vez?
Acho que há dois aspectos aí. O Que Bom Te Ver Viva era sobre mulheres que tinham participado da luta armada, sido presas e torturadas. A maior parte dessas pessoas vinha do movimento estudantil universitário, e na época quem fazia universidade era realmente a elite branca. E eram pouquíssimas mulheres, inclusive – na minha classe eram apenas cinco. Então o filme reflete isso. Agora, a questão do Ana vem decorrente de uma preocupação que o movimento negro está colocando e para a qual nós, brancos, temos de olhar. Não dá para continuarmos dizendo que não somos racistas, mas seguirmos com o mesmo tipo de atitude. Acho que a discussão está no filme em função de o movimento negro estar exigindo que isso se faça. Não é por boa vontade minha, evidente. É responder a algo que está colocado na sociedade.
Em certo sentido, a presença da Andressa em cena também traz ao filme um pouco da reivindicação pela maior participação das mulheres negras no cinema.
Sim. Aliás, outro dia a Andressa me disse que tinha tentado buscar técnicas de som negras [no cinema brasileiro] e não tinha conseguido encontrar. Na verdade, quando comecei a trabalhar, não existia mulher na equipe técnica. Quando fiz Que Bom Te Ver Viva a equipe era inteira masculina, com exceção da produção e do figurino. De resto, só homens. Já quando fiz Praça Paris [lançado em 2017], todas as chefes de departamento eram mulheres. Era incrível: só começou a entrar homem quando veio a coprodução com Portugal e Argentina. Então é uma mudança que está ocorrendo. Óbvio que ainda não está ocorrendo na medida que a gente quer, é uma presença que segue sendo minoritária. Mas já há uma mudança grande nas equipes, e isso te permite trabalhar com outro olhar. Se não existisse a técnica de som negra, essa questão não seria discutida no filme.
“Em todos os países em que fomos a questão da memória é muito presente, e no Brasil não é. Você claramente percebe que, pelo fato de nunca termos trabalhado nossa memória, é possível esse homem chegar [ao poder] e termos passeatas com pessoas dizendo ‘viva a ditadura’. Este desconhecimento, essa total inexistência de centros que possam trabalhar a memória tem muito a ver com a nossa realidade.”
Dois momentos muito marcantes de Ana. Sem título são o encontro com as Mães da Praça de Maio [associação de mulheres cujos filhos morreram ou desapareceram durante a ditadura militar argentina] e a visita ao Estádio Nacional do Chile, que servira de prisão e local de tortura e hoje é um memorial. Queria que você falasse um pouco sobre esses dois momentos.
Foram dois momentos basicamente documentais. Em relação às madres, decidi que não queria usar material de arquivo, apenas material atual, então fizemos um plano de filmagem para estar presente no horário em que elas vão à praça toda semana. Fui até elas ali na hora mesmo, falei que éramos uma equipe brasileira fazendo um filme sobre tortura e que eu tinha sido presa e torturada. Pedi para entrar, eles deixaram e foi aquela coisa muito emocionante. A Stella caiu no choro, ficou emocionadíssima. E um momento que adoro é quando chego para uma delas e peço para ela contar sua história e a do filho. E ela diz: “Não, estou aqui para falar de todas nós, do geral, e não da minha experiência”. Ela me dá a maior bronca [risos]. Mas eu deixei no filme porque adoro aquilo, acho muito legal. No caso do Chile, eu já havia visitado o estádio, porque eles têm um roteiro sobre direitos humanos que é muito maior do que aquilo que a gente vê no filme. Selecionei o que achava mais importante, incluindo aquela frase incrível [vista na arquibancada do estádio]: “um povo sem memória é um povo sem futuro”. Aquilo era fundamental estar. Montamos um grupo de visitação só nosso e começamos a entrevistar a guia. Eu não sabia, por exemplo, que os militares brasileiros tinham chegado ao Chile antes mesmo do golpe. Isso foi espantoso. Eu, que acho que sei tudo sobre aquela época, estava descobrindo algo totalmente novo. E na parte das mulheres [uma das seções do memorial do estádio, focada nas mulheres presas e torturadas], a Stella ficou muito emocionada. Então falei: “Léo, vamos filmar”. Aquilo não estava previsto.

Na última vez que te entrevistei, em 2013, a presidente do Brasil era Dilma Rousseff, que também foi presa e torturada pela ditadura, e você tinha acabado de dar seu depoimento na Comissão da Verdade do Rio de Janeiro. Naquele momento, existia uma expectativa por uma discussão mais aberta sobre o regime militar e de um acerto de contas maior do país com seu passado. Hoje, o presidente do Brasil é Jair Bolsonaro, um homem que elogiou um torturador publicamente. Para alguém com a sua trajetória, como é viver no país neste momento?
É difícil, né? É muito difícil, acho que para todo mundo. Às vezes converso com minha filha e digo que é difícil pensar que estou com 72 anos e não sei se vou conseguir ver outro Brasil. Essa parte é muito dolorosa: estarmos chegando no final da vida e esse retrocesso tremendo estar acontecendo em todos os sentidos, comportamental, ideológico, econômico. Às vezes digo que só queria voltar a 2016. Não estou pedindo mais do que isso antes de morrer. Então tem esse lado, que é horrivel. Ao mesmo tempo, o fato de a gente ter vivido tantos horrores, ter vivido a ditadura, ter vivido o [governo de Fernando] Collor, que acabou com o cinema…a gente tem a sensação de que isso vai terminar e as coisas vão mudar. Acredito realmente que esse horror vai terminar. Infelizmente a capacidade de destruição é muito grande, e não se recontrói no tempo da descontrução. Mas pela minha experiência de vida, por tudo o que passei, sei que isso vai terminar e que vai haver um retorno. Sei que o Brasil vai ter uma possibilidade de ser um país melhor, menos desigual, e que não seja fascista como é hoje.
Na entrevista de 2013 você me disse que era uma cineasta que lutava com a perda criando. O Ana. Sem título é uma luta sua contra as perdas do país?
[Pausa] Quando escrevemos o filme, o Bolsonaro ainda não tinha sido eleito. Escrevemos em 2018 e filmamos no início de 2019. Naquele momento, existia muito a perspectiva de descobrir as artistas. O filme tinha muito mais a ver com descoberta e prazer do que com derrota. No decorrer das filmagens, a questão dos direitos humanos e dos museus começou a se impor muito, até pela realidade que a gente estava vivendo. Em todos os países em que fomos essa questão da memória é muito presente, e aqui não é. Você claramente percebe que, pelo fato de nunca termos trabalhado nossa memória, é possível esse homem chegar [ao poder] e termos passeatas com pessoas dizendo “viva a ditadura”. Este desconhecimento, essa total inexistência de centros que possam trabalhar essa memória tem muito a ver com a nossa realidade. Isso tomou um espaço grande no filme por causa do que a gente está vivendo. Houve essa mudança entre o início do processo e a filmagem.
“É difícil pensar que estou com 72 anos e não sei se vou conseguir ver outro Brasil. Essa parte é muito dolorosa: estarmos chegando no final da vida e esse retrocesso tremendo estar acontecendo. Ao mesmo tempo, acredito realmente que esse horror vai terminar. Infelizmente a capacidade de destruição é muito grande, e não se reconstrói no tempo da desconstrução. Mas pela minha experiência de vida, por tudo o que passei, sei que isso vai terminar e que vai haver um retorno.”
A ditadura é um tema marcante do cinema nacional, e inclusive vários dos filmes que abordam esse período são dirigidos por mulheres. Como você avalia essa produção?
Acho super importante e inclusive gosto muito quando a nova geração trata do tema, porque é um outro olhar. Uma coisa é você ter vivido aquilo, outra coisa é quando os nossos filhos falam disso, como a Flavia Castro, por exemplo. Mas ainda é uma produção pequena se comparada, por exemplo, à da Argentina. Acho que é um tema que vai retornar, porque é parte da nossa historia, uma parte terrível, que tem a ver com o agora. Para podermos entender o que estamos vivendo hoje, é importante voltarmos para lá. E imagino que daqui pra frente, quado o cinema retornar, esse periodo vá ser revisitado.
Há algum desafio específico para os cineastas que querem abordar esse período? Algum tema que deveria ser mais explorado ou algo que é importante ter em mente?
O personagem principal do meu próximo filme, O Mensageiro, é um soldado. Sempre tive muita dificuldade de lidar ficcionalmente com o lado de lá e acho que lidar com torturador para mim é quase impossível. Mas é um filme interessante porque trabalho com dois personagens que em geral são vistos de forma secundária: a mãe de uma presa política e um soldado. E há um possibilidade de diálogo entre os dois, que acho importante neste momento de polarização. Essa discussão é interessante também: tanto valorizar os personagens que normalmente não são trabalhados quanto o diálogo entre eles e a discussão de como a violência repercute neles.
Que conselho daria às mulheres que querem trabalhar no cinema?
Quando minha filha começou a fazer cinema, alguém perguntou para ela: “O que você aprendeu com a sua mãe?”. E ela respondeu: “A ouvir ‘não'” [risos]. Achei muito boa essa resposta: é saber ouvir “não” e continuar.
Luísa Pécora é jornalista e criadora do Mulher no Cinema.
