
Acertar antes dos outros: é esta a grande missão de Denise Gomes, sócia e produtora executiva da área de entretenimento da Bossa Nova Films, empresa criada em 2005 e responsável por centenas de horas de programação televisiva e mais de dez longas-metragens. Com 40 anos de carreira no audiovisual, que começou quando bateu na porta da TV Bandeirantes e conseguiu um estágio em publicidade, ela aprendeu que estar atenta ao que vem por aí é fundamental. “Minha função como gestora de entretenimento é buscar pessoas já consagradas, mas também apostar em novos talentos. E continuar pensando sempre no que vai ser”, contou Denise, em entrevista ao Mulher no Cinema.
A constante busca por conteúdo em potencial ganha mais força conforme o mercado audiovisual brasileiro cresce e as plataformas de distribuição se multiplicam. Em 2016 a Bossa Nova passou a ter braços exclusivamente dedicados à animação e à exploração de propriedades intelectuais, de olho no que Denise chama de “extrapolar fronteiras”: criar produtos e marcas que possam ser vendidos para o mundo.
Por isso, seu foco são coproduções internacionais como Uma Espécie de Família, de Diego Lerman, parceria com a Argentina que acaba de ser exibida no Festival de Toronto e se prepara para competir em San Sebastián. Entre outros trabalhos, a Bossa Nova produziu Ausência (2014) com a França e o Chile, Violeta Foi Para o Céu (2012) também com os chilenos, e em 2019 vai rodar O Caso Morel, projeto iniciado pela diretora Suzana Amaral nos anos 1990 que terá participação argentina. “O fato de o Brasil ser um mercado enorme fez com que só pensássemos e produzíssemos para o nosso público. Mas acho que o País tem muitas histórias lindas e que precisaria interagir mais com o resto do mundo”, afirmou.
Nascida em Campinas, no interior de São Paulo, Denise se mudou para a capital paulista para cursar Comunicação. Depois do estágio na Bandeirantes e outras experiências em TV, rádio e uma breve passagem por agência de publicidade, nos anos 1980 iniciou sua carreira na produção. Foi sócia-diretora da pioneira Manduri 35 e fundadora da produtora Made, que depois se uniu à JX Filmes para criar a Bossa Nova. Na entrevista a seguir, Denise fala sobre as mudanças do mercado, pede urgência na regulamentação do video on demand (VOD) no Brasil e conta um pouco mais sobre O Caso Morel.
Leia os principais trechos da conversa:
+
No ano passado a sua produtora passou por uma reorganização, criando duas novas operações além da Bossa Nova Films – a Bossa Nova Animation, voltada à animação, e a Bossa Nova Studio, que lida com exploração de propriedades intelectuais. Por que você e os demais sócios tomaram essa decisão?
Minha visão sempre foi a de que o entretenimento tem de extrapolar fronteiras. O fato de o Brasil ser um mercado enorme fez com que só pensássemos e produzíssemos para o nosso público. Mas acho que o País tem muitas histórias lindas, muitas maneiras originais de contá-las, e que precisaria interagir mais com o resto do mundo. Achei que estava na hora de a gente ter uma empresa voltada para isso. Na área de cinema, o foco foram as coproduções internacionais – para a gente aprender e se capacitar, porque a troca é saudável, rica, e eu gosto muito da diversidade. Pegando esse gancho, a gente percebeu: qual o gênero mais fácil de coproduzir e vender fora do Brasil? A animação. Ela é facilmente exportada e não sai caro adaptar o áudio a cada país. Entendemos, então, que a animação era estratégica.
E o Bossa Studio foi uma aposta no digital?
Vemos o Bossa Studio como um investimento no mercado brasileiro. Acreditamos que o entretenimento vai crescer muito e que o produtor independente vai ter cada vez mais condições de ser proprietário de marcas e explorá-las, como acontece nos estúdios estrangeiros. E precisávamos de uma inteligência complementar: [a equipe do Bossa Studio] tem outras pessoas, que não fazem parte da Bossa Nova Films, dedicadas exclusivamente à estratégia, tecnologia e meio digital. Nem todos os projetos nascem ali: eles nascem na Bossa Nova Films e, se têm vocação, vão para o Bossa Studio. É o caso da Turma da Mônica Jovem, na qual temos uma sociedade com a Mauricio de Souza Produções. E não é só um longa: é um universo, uma marca. Ele já tem a Turma da Mônica Jovem, que é sucesso absoluto nos quadrinhos, mas quisemos investir junto com ele no live action. O projeto começa em uma plataforma digital, mas tudo está ligado ao produto premium que são os três longas-metragens já previstos. Isso vai até licenciamento, games…quando você tem uma marca e ela faz sucesso, há outras maneiras de explorar. É nisso que a gente está apostando. Poucos projetos estão no Studio, porque eles dão muito trabalho e envolvem muito dinheiro, mas acreditamos que isto fará do produtor independente brasileiro de fato um player com possibilidade de crescimento na indústria do entretenimento.
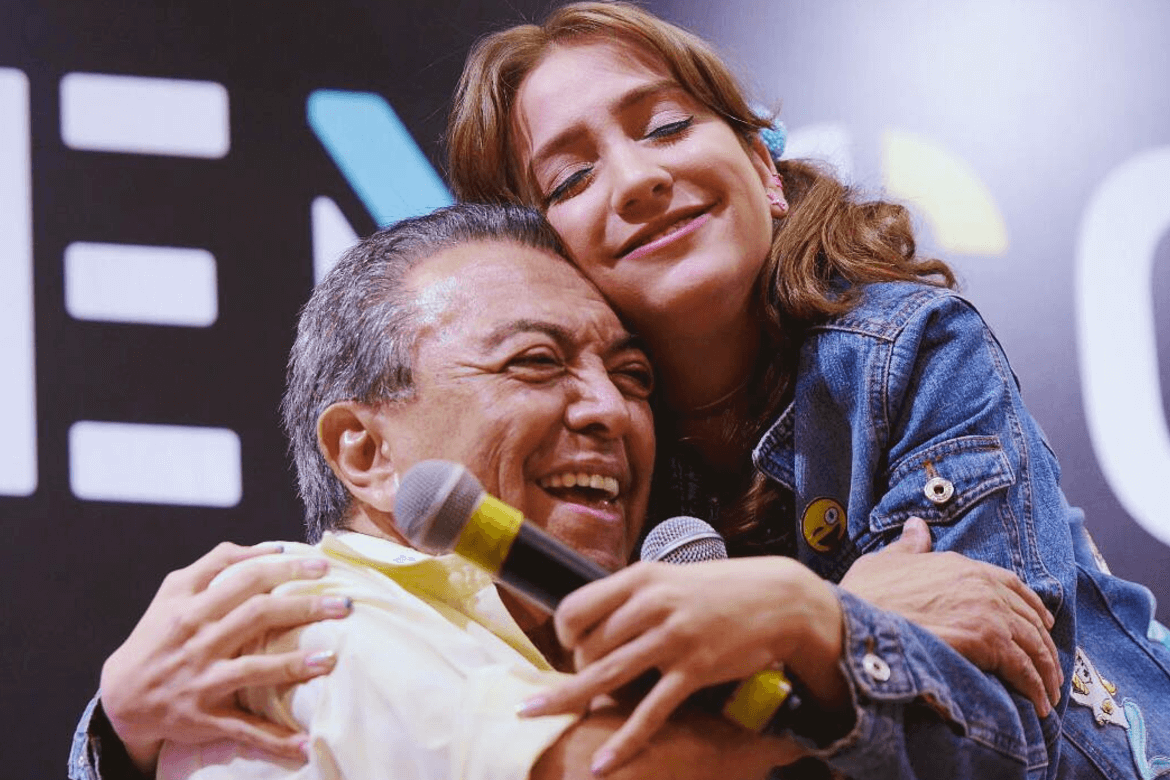
É uma forma de seguir um modelo mais internacional, em que um mesmo projeto pode se espalhar por diferentes mídias, e de depender menos de captação e leis de incentivo?
É a exploração da marca. Galinha Pintadinha, por exemplo, começou na internet e foi virando um sucesso. Hoje a Galinha Pintadinha é uma marca. Eles [os criadores] fecharam [acordo para produzir] uma série com a Netflix, mas não estão pensando na taxa que vão ganhar na produção dessa série, e sim em lançar a Galinha Pintadinha fora do Brasil e explorar a marca e o licenciamento. Porque eles são de fatos donos, sozinhos. Isso é o que chamo de produtor independente mesmo. Na década de 80, quando trabalhei na Manduri, a gente falava em produtora independente porque [o conteúdo] era feito na produtora e entregue pronto para a televisão. Mas você não tinha direito sobre nenhum conteúdo. Foi uma década muito rica para a Manduri e para outras produtoras independentes, mas elas não deixavam de ser, como empresas, prestadoras de serviço. A formação do mercado independente mesmo veio com a Ancine e mais recentemente com a lei da TV paga [que estabeleceu que canais por assinatura exibam pelo menos três horas e meia de conteúdo brasileiro semanalmente no horário nobre, sendo metade deste material produzido por empresas independentes].
Quando a lei entrou em vigor, em 2012, houve resistência do público sobretudo em relação às séries produzidas no Brasil. Como está essa questão hoje? Você disse que o mercado tem muito para crescer, isso significa que os espectadores estão gostando mais desse conteúdo?
Estão. As séries brasileiras da Fox, por exemplo, estão tendo sucesso na América Latina, assim com a HBO e a Netflix, que elogiou muito o resultado do 3%. Acho que a gente está melhorando a cada ano. Evidente que ainda há uma herança da novela e muitas das nossas séries são mais novelescas. Não estou criticando – é um estilo, e naturalmente no começo fomos para este caminho. Mas já temos séries com outra linguagem, com vocação de série. O que não temos é o VOD: as empresas de VOD pondo dinheiro em séries brasileiras. Nossos orçamentos são infinitamente menores do que os das séries estrangeiras, o que nos limita na linguagem. Com R$ 200 mil por episódio não se faz nada que não seja comédia de situação – e séries demandam muito mais tempo de desenvolvimento, pois é preciso pensar nos arcos e no que vai acontecer na primeira, na segunda e na terceira temporada no mínimo. Sem isso, não tem valor no mercado internacional. É um investimento alto, e não temos mecanismos para custear esse desenvolvimento. Os concorrentes internacionais são fortíssimos e ainda temos a TV Globo, que faz série muito bem agora, [com orçamento] muito maior do que as produtoras independentes. A regulamentação do VOD é urgente há anos. Já deveríamos ao menos ter decidido as regras, porque o dinheiro de Amazon, Netflix, iTunes e todos os outros players só virá na hora em que o Brasil definir regras claras e objetivas. A partir daí a gente vai poder fazer série. Não estou nem tomando partido e dizendo qual a minha opinião, mas a gente precisa definir as regras logo para continuar evoluindo.
E qual é a sua opinião sobre a regulamentação do VOD?
Acho que o Brasil ainda precisa de um certo protecionismo. A indústria de qualquer país no início precisa proteger o mercado local, porque eles [os estrangeiros] estão anos-luz à frente, em tamanho e dinheiro. Você ainda não tem musculatura para concorrer. Mas acho que a gente tem talento e estrutura de produção suficiente para atender a uma possível demanda que venha a existir. Acho que estamos preparados.

Há algum profissional qualificado em falta no mercado brasileiro? Roteiristas, por exemplo?
Roteiristas agora temos muitos, já bem formados e capacitados, que correram atrás, fizeram cursos e workshops. Acho que não temos a possibilidade de trazer doctors [consultores de roteiro] nem de formar showrunners. Porque o showrunner não é apenas o chefe da sala de roteiristas, é um roteirista produtor. Ele enxerga aquele produto com uma visão comercial além da de roteirista. Acho que falta desenvolver este profissional. E acho que faltam atores. Por mais que a Globo já não contrate exclusivamente, ainda há resistência dos atores em fazer séries para outros canais, com medo de depois serem colocados na geladeira. E você não vira uma série sem o ator certo. A primeira pergunta feita pela empresa que vem ao Brasil é: quem é o ator? Ainda é necessário um nome de peso para chamar a audiência. A gente estava produzindo uma série para o Canal+ da França e queríamos muito a Débora Nascimento. Na época ela tinha contrato e a Globo não liberou. É uma dificuldade, mas acho que quando a demanda vier os atores também vão estar mais independentes. Hoje eles não têm muitas opções.
Uma parte muito importante do seu trabalho, portanto, é ficar atenta às mudanças e ao que vem por aí.
E muito mais do que isso: é enxergar antes. Minha função como gestora de entretenimento é buscar pessoas já consagradas, mas também apostar em novos talentos. E continuar pensando sempre no que vai ser. A maior dificuldade é acertar antes dos outros: você tem sempre de estar buscando, vendo, lendo muito. O ideal é que o produtor possa ler o livro antes mesmo de ele ser lançado. No Festival de Berlim há um evento no qual as editoras levam aos produtores livros não lançados com vocação de cinema. Meu sonho é fazer isso na Flip [Festa Literária de Paraty] e inclusive já falei com os organizadores. Meu sonho é encontrar um produto como Big Little Lies. Estou lendo livros com essa pegada. E acho que para nós é mais fácil produzir a minissérie, porque se resolve naquela temporada – e um elenco como o do Big Little Lies não vai se comprometer por anos. Então temos este tipo de produto para explorar aqui, mas o pulo do gato vai ser a regulamentação do VOD. A competição entre eles [as empresas estrangeiras] será muito saudável para nós.
Falando agora sobre um talento já consagrado, que é a Suzana Amaral. O que você pode contar sobre O Caso Morel, um projeto muito antigo dela que está sendo retomado com a Bossa Nova?
Quando conheci a Suzana, há uns sete anos, ela queria fazer outro filme. No meio de uma conversa ela me falou de O Caso Morel e pedi para ler o roteiro que ela tinha escrito com a Patrícia Melo.
É o roteiro original, de quando o filme ia ser feito pela primeira vez?
Sim. E quando li, falei: “Suzana, você tem de fazer esse filme”. É a cara dela. Então abraçamos o projeto e fomos à luta.
Os direitos da adaptação eram da Suzana?
A produtora [do filme original] perdeu os direitos, que tinham voltado para a agência do Rubem Fonseca na Espanha. A primeira coisa que fizemos foi comprar os direitos, depois assinamos o contrato com a Suzana. Ela queria rever, revisitar o roteiro, claro. Já temos o Júlio Andrade escalado para o papel do delegado e estamos finalizando o restante do casting. Ganhamos recentemente um edital da Spcine, que era o último dinheiro que faltava, então vamos filmar no primeiro semestre do ano que vem. [A Suzana] está super a fim de fazer, está a mil.
Durante a sua carreira, mudou alguma coisa no que diz respeito a ser mulher no audiovisual?
Ficou bem mais fácil. Na década de 1980 sofri muito assédio, principalmente dentro do meio televisivo. E tive de provar que sabia fazer negócios, porque as mulheres eram vistas como um único tipo de talento. Quando fui convidada para ser diretora-geral do Canal 21, sofri resistência de muitos homens que não acreditavam na minha capacidade de estar onde estava, em um cargo que exigia astúcia e visão de negócios. Sem dúvida houve uma evolução enorme. Hoje empresárias comandam empresas gigantes – e conquistamos isso em um curto espaço de tempo. No cinema também há muitas mulheres, embora na direção ainda seja um número menor, ao contrário da produção. Não sei o motivo [para isso]. Mesmo no Bossa Lab, nosso núcleo de jovens talentos, sou muito mais procurada por homens. Estamos atrás de mulheres. Vou começar a visitar as faculdades de audiovisual para buscar um diálogo, e vou poder ter esse contato, saber como estão os números de alunos, se as faculdades têm mais homens ou mulheres.
Contratar mulheres especificamente é algo que você tem em mente?
Nunca precisei pensar nisso porque minha tendência é a de me identificar com mulheres. Nada contra os homens, mas na produção executiva gosto muito do raciocínio feminino. Só há mulheres nos cargos de comando da minha área [na Bossa Nova Films]: além de mim, a Adriana Tavares e a Paula Cosenza. Mas é uma coincidência, não foi programado. Tenho facilidade de trabalhar com elas nesta área porque são muito comprometidas. E acho que nosso maior talento é sermos agregadoras. Temos a tendência a dividir, agregar, colaborar, acho que até pela nossa sobrevivência. E isso é fundamental. A multiplicidade de visões é o que enriquece o produtor audiovisual.
